Chamava-se Robson e eu não tenho a menor ideia do que se sucedeu a ele.
Era o único negro (único!) da minha turma do primário, na Escola Pública Isabel Mendes, entre o Lins de Vasconcellos e o Méier.
Tímido, algo envergonhado, com certeza porque passava boa parte do ano usando um pé de sapato e o outro de chinelo (que então não era moda) , porque “estava machucado”. Um dia, soube que era para economizar o par de sapatos que ganhava da “Caixa Escolar”- uma contribuição mínima (coisa de R$ 5) que se pedia a todos os alunos para pagar uniforme, material e calçado dos que nada tinham e que o “politicamente correto” pôs fim – e entendi sua timidez.
Porque para mim, e acho que para os outros meninos, o que havia era inveja de não estar metido naquele Vulcabrás quente e desconfortável, nem que fosse só um dos pés alforriado da obrigação. A vaidade viria mais tarde, a classe média ainda não vestia as crianças como “príncipes e princesas”, a não ser no dia de ir ao retratista, fazer aqueles quadrinhos com seis, oito imagens numa só folha.
O Robson vivia por dentro, mais que por fora, a discriminação. Porque certamente seus pais sofriam duas, as por serem negros e a por serem pobres. E acho que era essa a maior, embora a outra existisse quase como naquelas advertência de “não pode ser vendido separadamente” que imprimem em algumas coisas.
Quanto mais entre os pobres, por mais iguais, menor a discriminação. Só rapazinho fui perceber que havia ainda algo não dito e até “engolido” nas relações familiares: na companheira de meu tio-avô, Maria Vitalina, filha de uma escrava, que plantava couve e carregava trouxas de roupa no vilarejo de Conservatória; a Biu (Severina), segunda mulher de meu tio. Ou no Sebastião, a quem só se chamava de Compadre, e em sua mulher, sempre muito elegante, a Comadre (acho que nunca soube seu nome de batismo). Todos negros, todos da família, com um “quase” que vinha do ranço europeu, dos filhos e netos e bisnetos de portugueses, embora já estivéssemos quase todos algo encardidos de nossa história e das ruas de terra.
Todos eram pobres e, gostassem ou não, estávamos juntos e misturados, em parte, naquela pasta da pobreza, que não era a riqueza da elite nem era a miséria da favela, esta sim, quase toda negra, pois ainda eram poucos os nordestinos, os novos pretos da elite paulista e sulista.
Eu só percebia mesmo algo de estranho com a cor da pele com um casal de amigos do meu pai, a Dulce e o Nélson. Ela, professora universitária; ele, creio que engenheiro (morreu cedo) da Petrobras. Como assim, negros bem-sucedidos profissionalmente, ainda mais morando na Zona Sul?
Não, aí não, porque o negro era o Pai Tomás – Sérgio Cardoso, com o rosto pintado de negro, repetindo ao senhor o “Sim, Mister Legris” (por ironia, cinza, em francês) – e a Mamãe Dolores, que afinal serve para criar como mãe postiça uma criança havida de um “mau passo”.
Nélson e Dulce eram “exóticos”.
Assim, devagar, fui entendendo que a discriminação racial, pra valer, é aquela que não se conforma com a ascensão social dos negros, a que os trata até com piedosa condescendência, desde que fiquem “no seu lugar” e sejam bons, pacatos, que conservem para sempre a timidez assustada do garoto Robson.
Descobri também os meus próprios preconceitos: um dia, em Uruguaiana, na fronteira gaúcha, um bando de guris sujinhos e maltrapilhos deu de correr atrás do jipe que levava Leonel Brizola. Eram todos muito pobres e eram todos bem lourinhos.
E que aquela exceção confirmava a regra mental de que os pobres eram pretos, donde brota a ideia de que merecem era um pouco de caridade e muita polícia, para que se conservem tímidos, assustados, bem pretos e e bem pobres.
Não é dizer que não há discriminação racial, mas social e nem falar que os negros são discriminados porque são pobres, ou são a maioria na pobreza. Não, o racismo existe é não há um dia em que a gente não o perceba e não o deva combater, porque é uma das maiores abjeções que o comportamento humano pode ter.

Mas a de entender que, por mais que se o combata, deve-se combater com mais vigor aquilo que o mantém no cativeiro da pobreza, para o qual – sirvo-me do Cartola, genial – “é necessária nova abolição”.
É aí que dói à ignorância racista: que o povo negro tenha acesso à educação, que tenha a capacidade de compreender o que se passa no mundo e diante dele erga a sua cabeça, como ser humano que olha a todos nos olhos e não com os olhos baixos do Robson.
A igualdade tem suas horas de luta, de afirmação, de desafio, tal como tem a liberdade. Ainda estamos nela: na era das cotas, das ações afirmativas, da necessidade de repelir. Mas como avançamos, e como nos falta avançar!
Porque ela é um longo processo de construção – que tem seus heróis, e deve-se cultuá-los – que se completa em serena placidez e comunhão, pelos processos onde a sua afirmação vá se tornar cada vez menos necessária.
Porque ela não é necessária onde há igualdade. Porque os negros jamais seriam escravizados se dispusessem do aço, da pólvora, dos navios que tinham os seus captores.
Como jamais serão escravizados quanto tiverem, como nunca tiveram, as armas – afinal, um fruto do conhecimento – em quantidades iguais ou mesmo apenas semelhantes aos brancos. E o aço, a pólvora, a caravela moderna têm o nome de educação.
Até lá, é não esmorecer, sem deixar de compreender que a intolerância, o ódio, a agressividade, a negação feroz do outro são as paliçadas onde se defende o indefensável, onde se quer deter o avanço da humanidade, da civilização, da fraternidade.
O ódio é a voz do passado, é coisa do senhor que ergue o relho. A mão que o detém no ar é que é sólida, impávida, serenamente heróica, porque tem mais força e determinação.
Como uma pedra, o racismo pode ser partido em pedaços menores, mas só desaparecerá num processo de erosão.
E como um dia – ainda bem – seremos todos mestiços, com cor da humanidade na pele e na cabeça, que o Dia da Consciência Negra seja a festa do que há de vir.
E meu neto e o neto do Robson possam ir à escola de chinelos, com os dois pés, e porque serão livres e felizes. Que possam tirá-los e chapinhar na lama como convém às crianças, depois de uma chuva que nos lave tantas dores que terão ficado para trás.


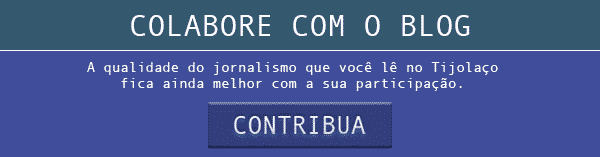

14 respostas
Fernando, grato pela lucidez da reflexão e beleza do texto. Grato por alimentar minha fome do belo e verdadeiro!
“Um abraço e um sorriso negro” como canta dona Ivone Lara!
Fernando, seu texto é excelente, mas desculpe fazer uma ressalva: não foi o “politicamente correto” que acabou com a “caixa escolar”, mas o Bolsa Família: graças a ele, as crianças não dependem da caridade alheia.
Acabou bem antes, desde o final dos anos 80.
Pois eu tenho um parente,negro como os olhos de Maria,que diz sempre,ser parente meu,POR SOITERA,palavra gaúcha,que se origina do AÇOITE.Entretanto sua avó,teve um filho,seu pai,com um tio de meu pai.Mas ele continua cultuando o velho preconceito que lhe ensinou a vida.Ensinamento sem dúvidas,das vidas dos BRANCOS,que se achavam no direito de serem ESCRAVISTAS.Tanto por preconceito,quanto pelo lucro,mais pelo lucro.Ai entra o velho CAPITALISMO,incipiente,é verdade,mas que busca somente,LUCROS.Do trabalho alheio,bem entendido.
Parabéns, este belíssimo e emocionante texto me levou aas lágrimas.
Só não dou mais tanta bola pro discurso da mestiçagem. No dia em que formos todos marrons e não brancos, pretos, asiáticos, índios, o ódio haverá de criar algum outro estigma. Talvez, os marrons se sintam superiores aos que fugirem da matiz e insistirem em nascer brancos, negros, asiáticos, índios…
Venho de família mestiça, porém com fortes raízes escravagistas. Quando criança, também recebi de meus pais a mesma postura racista “pero no mucho” a qual descreve o texto. Me lembro da primeira vez (não é exagero!), em que fui brincar de roda na pré-escola e peguei na mão de um menino negro. Não disse nada, não fiz nada… mas, tenho certeza de que ele sentiu a dor por meu estranhamento quando olhei fixamente pro contraste de minha mão mais clara segurando sua mão pretinha, pretinha. Vi em seus olhos o mesmo acanhamento descrito no texto, como se minha maldade lhe passasse pela mão feito um choque elétrico. Na hora, não me dei conta que havia feito algo tão errado. Não nos anos 70. Não num tempo em que tudo parecia estabelecido. Com o tempo, me dei conta que morava numa família onde havia racistas (não todos) e que isto por algum tempo moldou minha percepção quanto aos negros. Eu tinha cinco anos e já revelava o sentimento que nunca havia sido falado abertamente, ou ao menos, falado com alguma ressalva piedosa. Tenho vergonha. Muita vergonha. Mas, ainda assim, o mesmo remédio pra curar a timidez do garoto do texto, serviu-me pra tratar esta doença. É crônica e se manifesta em contato com o meio poluído. Se não respirarmos, olharmos pra trás, nos colocarmos no lugar do outro, não há como oferecer resistência. Foi a educação que me deu o tratamento certo. E a certeza de que, pra sempre, o doente serei eu. Cabe a mim, cuidar-me e aceitar minha pequenez diante dos fatos. A todos os negros, hoje, peço primeiro o perdão. Depois, dou os parabéns.
Salve, Salve os novos caminhos que o nosso Brasil vem trilhando, que prossiga por muitos e muitos anos.
É isso aí, Edgar. É aquela história do Rui Guerra: “Sabe, no fundo eu sou um sentimental. Todos nós herdamos no sangue lusitano uma boa dosagem de lirismo ( além da sífilis, é claro). Mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em torturar, esganar, trucidar, o meu coração fecha os olhos e sinceramente chora…” Mas quando a gente entende e assume a carga que a história nos deu – e que diminui a cada geração – não torturamos, não esganamos, nem trucidamos embora, volte e meia, ainda choremos. Como você, também venho de família com mestiçagem – ainda bem – e não sirvo para fazer propaganda de sabão que “lave mais branco”. Curiosamente, nesta história das mãos, sempre brinco: vire a palma e a minha é mais escura. Temos culpas mentais e é bom que as tenhamos, porque elas funcionam como bloqueio ao “meio poluído” a que você se refere. Mas não me dominam, nem me controlam. E acredite, a meninada está melhor que nós. Não é só o sangue e a pele que miscigenam e se equilibram, a cabeça também.E na próxima estará melhor ainda, apesar destes imbecis que acham que “ter um pé na cozinha” ou “ter até amigos negros” são atenuantes para seu racismo. Eu apoio políticas públicas diferenciadas e convívio pessoal igualitário. Uma tenta mitigar o passado; o outro, busca construir o futuro.
Você tem mais esperança que eu, Fernando. Acha mesmo que o Brasil está melhor, depois desta onda tsunâmica de retrocesso fascista que estamos vendo? Acho que pertenço à parcela que tem um pé no futuro e outro na lama do passado. Não vejo escolha senão tentar me desatolar, há muito tempo. No entanto, o quadro não mudou muito desde minha infância: ricos são declaradamente racistas, pobres remediados são culpadamente racistas e pobres, de maioria ainda negra, buscam sua identidade, sua dignidade, sua integridade, sendo claramente conduzidos pela “opinião pública” (aquilo que hoje reconhecemos como meios de comunicação tradicionais, ou mídia PiG) a vestirem o estereótipo costurado pelo branco rico como sendo o mais adequado ou o que melhor lhe cai no corpo negro. A naturalização da criminalidade na periferia, a culturalização da violência, da escrotice, da desumanidade típica do crime organizado têm conduzido a futura geração a qual você se refere em seu comentário, ao mesmo caminho traçado pelos seus antepassados: a traição de seu próprio povo pelo aliciamento do branco sobre suas lideranças e a inevitável escravidão de todos sob o chicote da polícia corrupta – braço institucional deste governo mafioso e fascista que temos em São Paulo desde o fim da ditadura. Braço este que lidera às claras a atuação de toda prática criminosa, sem que nos centros, os mais abastados se deem conta ou façam-se de cegos diante disto. O pior é que, mais uma vez, estamos vendo o estigma do preto pobre levando a culpa por todas as situações periclitantes vividas nas cidades. E este pensamento, ardilosamente inculcado pela pelos formadores de opinião, tem cada vez mais sido incorporado pela própria periferia, gerando uma guerra fratricida que beneficia apenas os administradores do caos. Nordestinos, numa esfera nacional também não ficam fora deste processo. Mas, ainda creio que é de lá que virá a força capaz de contrapor-se a isto. Uma força que não carrega os vícios da elite paulista, que não é PT nem PSDB. Que não é, digamos, “macunaímica”, como referência aos estereótipos pseudonacionalistas da Semana de 22.
Com todo respeito, avalio com cautela esta percepção, mas não consigo ver um único passo adiante do que sempre fomos. É preciso ruptura. E esta, embora latente, é insistentemente abafada ou abortada pela parcialidade com a qual é proclamada. Minha única esperança é a de que somos um país jovem. Quinhentos anos não são nada na História. São muitos pra quem espera a mudança. Pra estes, já passou da hora. Obrigado por responder.
Somos e seremos sempre tomados por sentimentos, reflexos de valores dialeticamente opostos. Minha educação e a retificação das minhas ações é um esforço diário. Nunca parto do zero, parto de valores penosamente acumulados e ainda assim sofro, como você, quando me apercebo proprietário de pensamentos e ações preconceituosas. Entro nesse diálogo seu com o Fernado, pisando em ovos, não querendo fazer qualquer ruído que possa corromper a contemplação desse momento de troca de ideias inteligentes e sensível. Parabenizo, Fernando e Você pela beleza dos textos e outros depoimentos/comentários aqui registrados, que alimentam meu otimismo mais próximo das esperanças do Fernando.
Não pise em ovos quando a discussão se dá entre pessoas de bons princípios e de boa fé. O debate sempre nos melhora, quando queremos absorver e sintetizar, que é o próprio processo da vida.
Também estudei na Isabel Mendes, nos anos de 1966 e 1967, no segundo e no terceiro anos do primário. Bem sabes que quem dá nome à escola foi uma professora negra. Acho que Millôr Fernandes foi seu aluno.
Havia só uma menina negra na minha classe. As outras duas da vila já trabalhavam como domesticas desde os dez e não tinham tempo. Esta só estudou um ano. Vinha a pé desde a “quase senzala” onde vivia numa fazenda com os pais. Só tinha um vestido.Era lavado no domingo.Sumiu e não veio mais….Soube depois, que se suicidou tomando água sanitaria com dezesseis anos.
Caramba, Fernando! Bonito demais, gracias.