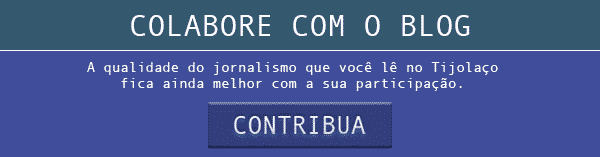A autonomia do Banco Central avançou no Congresso e chegará provavelmente a ponto de decisão no início de 2021.
Parte integrante da agenda econômica liberal, o tema movimenta interesses pesados e constitui antiga aspiração da turma da bufunfa e seus porta-vozes na mídia.
Um projeto de lei complementar encontra-se em estado avançado de tramitação: passou no Senado e foi enviado à Câmara dos Deputados.
A expectativa, no momento, é que seja votado no início de 2021.
O projeto é ruim e deveria ser rejeitado ou, no mínimo, emendado de forma significativa, como tentarei mostrar.
As teorias em que se sustenta são falhas e omissas em pontos cruciais, como veremos.
Breve descrição do projeto de lei e da teoria subjacente
Em linhas gerais, o projeto segue a cartilha tradicional.
A questão da autonomia ou independência do Banco Central (BC) é vasta, cheia de sutilezas e armadilhas. Vou me ater aos pontos centrais, sem a pretensão de tratar de todos os aspectos da questão e do projeto de lei.
Como se garante a autonomia?
Concedendo mandatos fixos, longos e não coincidentes com o do Presidente da República, ao presidente e aos outros oito diretores do BC.
A diretoria do BC é hoje demissível ad nutum, isto é, pode ser destituída a qualquer momento pelo Presidente da República. Sem estabilidade no cargo, argumenta-se, as autoridades monetárias não têm condições de divergir e muito menos confrontar o Presidente da República.
Em defesa da proposta, e para dourar um pouco a pílula, argumenta-se que o projeto de lei concede autonomia formal, mas não independência, uma vez que as metas de inflação, cujo controle é a atribuição primordial do BC, são fixadas por meio do Conselho Monetário Nacional, onde o governo tem maioria, e não pelo próprio BC, que seria apenas o órgão executor.
O BC teria a autonomia formal para definir os meios de alcançar essas metas, mas não independência para fixá-las.
No jargão da literatura, ele seria goal-dependent, mas operationally independent.
O cerne do projeto de lei, como indicado acima, está na concessão de mandatos fixos à diretoria. Isso “blindaria”, na linguagem adotada no projeto, o BC contra pressões políticas.
A teoria por trás dessa proposta é conhecida em linhas gerais, uma vez que sempre desfruta de ampla publicidade.
O que se apresenta, na verdade, não são demonstrações, mas uma narrativa bem articulada, porém cheia de lacunas e non sequiturs.
A narrativa básica, em poucas palavras, é que o poder político eleito sofre de miopia crônica, apresentando tendência a abusar da política monetária para alcançar resultados políticos de curto prazo, sacrificando o controle da inflação no médio e longo prazos.
Nos períodos que antecedem as eleições, o governo seria tentado a pressionar um banco central dependente a adotar políticas monetária excessivamente expansionistas por meio de juros baixos e expansão exagerada do crédito.
Um banco central consegue, com esses métodos, aquecer a demanda, a atividade econômica e o emprego no curto prazo, mas paga o preço de uma inflação mais alta na sequência. Normalmente, os efeitos reais positivos se fazem sentir mais cedo.
Assim, um banco central dependente pode ajudar a reeleger o Presidente (ou a fazer o seu sucessor), mas sempre ao custo de sacrificar o controle da inflação no médio prazo.
Os efeitos reais positivos seriam transitórios; a perda em termos de alta da inflação, duradoura. Em uma palavra, o BC dependente poderia servir a uma forma de estelionato eleitoral.
Falácias e omissões da ortodoxia econômica de galinheiro
Essa narrativa tem a sua plausibilidade, apela de certa maneira ao senso comum. Não é totalmente falsa, mas esconde aspectos essenciais.
Parodiando Roberto Campos, o avô do atual presidente do BC, ela é como o biquini, mostra muito, mas esconde o essencial. É mais fácil vendê-la em países nos quais a classe política esteja desacreditada, como é o caso do Brasil.
No entanto, ela é muito discutível, como costumam ser as questões e propostas macroeconômicas.
As fragilidades da narrativa não são difíceis de trazer à tona.
Assim, é mais fácil vendê-la em países em que a mídia suprime o debate público sobre as questões econômicas.
Tudo se complica quando examinamos com lupa a proposta de autonomia formal. Um pouco de reflexão e informação é suficiente para mostrar que a narrativa tradicional contém meias verdades, falsas promessas e omissões significativas.
Primeiramente, a miopia política existe, não há dúvida, mas a tecnocracia também tem visão turva.
Não existe consenso profissional sólido sobre como conduzir a política monetária, contrariamente ao que se afirma ou insinua.
A exemplo do que acontece em todas as outras áreas da economia, a incerteza impede a formação de consensos estáveis na área monetária – o que se vê, ao contrário, é a multiplicação de controvérsias e correntes de opinião entre os profissionais.
Diferentes economistas, confrontados com o mesmo conjunto de informações, podem chegar a conclusões distintas e até opostas – sem a que a teoria monetária ou a econometria possam dirimir as divergências em definitivo.
Assim, as decisões sempre envolvem elementos extra científicos e são políticas, em última análise.
Ademais, no caso brasileiro, o BC desfruta, há algum tempo, de autonomia na prática.
Os sucessivos governos brasileiros, desde o Plano Real, embora de orientação radicalmente diversa, têm respeitado a autonomia do BC para buscar as metas de inflação estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
Depois de 25 anos de autonomia na prática, a questão parece essencialmente resolvida.
Portanto, é provavelmente ilusória a expectativa de que a formalização da autonomia traga ganhos expressivos em termos de diminuição das expectativas de inflação e dos prêmios de risco implícitos nas taxas de juro, como prevê a justificação do projeto de lei aprovado no Senado.
Vejamos o que acontecerá na prática, se o projeto for aprovado.
O presidente Bolsonaro, aconselhado (presume-se) por seu ministro da Economia, escolheria o presidente e os outros oito diretores do BC, confirmando provavelmente aqueles que estão nos cargos.
Essa equipe teria mandato fixo de quatro anos, não coincidentes entre si, permitida uma recondução.
O próximo presidente da República teria de conviver com um BC autônomo presidido, nos dois primeiros anos do governo, por pessoa escolhida pela dupla Bolsonaro/Guedes.
Se a orientação básica do próximo governo for diferente, cria-se no seio da política econômica uma contradição difícil de sanar.
Não se deve perder de vista, além disso, que medidas institucionais desse tipo são um caminho quase sem volta. Uma vez adotadas, torna-se difícil, quando não impossível, voltar atrás.
Essa irreversibilidade, longe de acidental, é parte essencial da proposta, pois é justamente a dificuldade de reverter a autonomia formal que lhe confere, supostamente, o condão de trazer ganhos de credibilidade para a política monetária.
A autonomia do BC é, na verdade, parte de uma família de propostas que obedecem a uma mesma filosofia geral, que se estende também a outras áreas da política econômica. A filosofia política subjacente é, em poucas palavras, a seguinte.
O poder político em democracias modernas é deficiente para alcançar certos objetivos econômicos.
A excessiva liberdade de escolha conduz a políticas “populistas” – nas áreas fiscal, monetária ou cambial – com resultados desfavoráveis, possivelmente desastrosos.
Convém, portanto, renunciar à liberdade de ação para dar aos agentes econômicos a confiança de que essas políticas não acontecerão.
Expressando a ideia de forma paradoxal e polêmica, o que se quer, na verdade, é castrar o poder político para criar um ambiente autoritário em que tecnocracias não-eleitas possam decidir sossegadas, com autonomia, sobre temas delicados que não conviria deixar na mão do governo e seus eleitores.
Em uma frase: democracias tendem a soluções “populistas”, fogem de medidas dolorosas e, por isso, não é prudente deixar questões fundamentais como moeda e contas públicas à mercê de governos eleitos e, em última análise, das inclinações de um eleitorado iletrado.
Propostas desse tipo refletem, em última análise, descrença na democracia, mais especificamente na sua capacidade de encaminhar questões econômicas complexas.
Vox populi, vox dei? Não: Vox populi, vox diabioli.
Em termos do jargão econômico, estamos diante de um dilema ou trade off clássico: regras x discricionariedade ou, visto de outra maneira, credibilidade x flexibilidade.
Adotando regras, especialmente regras rígidas, obtém-se ganhos de credibilidade; porém, esses ganhos são obtidos à custa de uma perda de flexibilidade.
Quanto maior a rigidez maior o ganho em termos de credibilidade e maior a perda em flexibilidade.
Esse dilema aparece em várias áreas e, em especial, toda a vez que se discute a conveniência de adotar algum tipo de regra: regras fiscais – por exemplo, o teto constitucional de gastos – regras cambiais, regras monetárias ou arranjos institucionais como um banco central autônomo.
Os custos e as vantagens – e os dilemas correspondentes – são até certo ponto semelhantes. Em geral, a melhor solução para cenários em que há problemas de credibilidade é adotar uma regra flexível – flexível no desenho e no formato legal – para ter algum ganho em termos de confiança sem destroçar a flexibilidade e a capacidade de atuar do Estado.
Na realidade, o problema transcende os dilemas tradicionais da macroeconomia.
No caso do Banco Central do Brasil, a autonomia formal, amparada em lei complementar, criaria um quarto poder na estrutura do Estado.
Pode parecer exagero, mas não é. O BC tem considerável poder e, como mencionei, já atua com autonomia em relação ao Poder Executivo.
A prestação de contas ao Poder Legislativo é insuficiente e a aprovação congressual para ingresso na diretoria do BC é sempre mera formalidade.
O poder do BC reflete, também, os seus méritos.
Trata-se de instituição sólida, bem-organizada, que dispõe de um corpo técnico numeroso e, mais importante, qualificado e experiente, composto de funcionários aprovados em concursos muito concorridos.
Exerce, além disso, um número importante de atribuições – não apenas a política monetária e o controle da inflação, mas também a supervisão e regulação do sistema financeiro nacional, a política cambial, a gestão das contas externas e a administração das reservas internacionais do país.
Produz, além disso, grande parte das estatísticas macroeconômicas do país, não só as de moeda e crédito, mas também fiscais e do setor externo da economia.
Conta, também, com um departamento de pesquisas que elabora análises detalhadas de temas sob responsabilidade da instituição.
Se uma autarquia com todas essas características obtém, além disso, autonomia formal, amparada em lei complementar, parece claro que ela passa então a constituir, sim, um quarto poder dentro da estrutura do Estado nacional.
Um poder não-eleito, repita-se, o que esvazia ainda mais uma democracia já bastante frágil.
Uma pequena omissão – a verdadeira dependência do BC
Além de intrinsecamente falha, a narrativa tradicional contém uma pequena e constrangedora omissão.
Nada diz, nem sequer insinua sobre a verdadeira dependência do BC, que é, leitor, a dependência não em relação ao poder político, mas ao poder financeiro, poder que se agigantou ao longo das últimas quatro ou cinco décadas, no Brasil e no Mundo Ocidental, como argumentei em um dos capítulos de livro publicado recentemente (O Brasil não cabe no quintal de ninguém, São Paulo: LeYa, 2019, p. 352-71).
Na prática, qual é a situação do Brasil?
Já temos, na verdade, autonomia real do BC em relação ao governo.
Mas temos, por outro lado, dependência igualmente real do BC em relação ao sistema financeiro.
Essa dependência é assegurada por omissões da legislação e, mais importante, por uma prática enraizada que garante a captura do regulador (o BC) pelos regulados (as instituições financeiras).
Essa captura se dá por meio da subordinação do comando do BC – incluindo não só a diretoria como também os principais cargos de chefia do corpo técnico – às doutrinas, preconceitos e interesses do sistema financeiro.
Estabeleceu-se um sistema em que as nomeações para a diretoria do BC ficam condicionadas, na prática, ao consentimento do mercado, que chega até a vetar, implícita ou explicitamente, nomes que possam contrariar suas orientações básicas.
O que prevalece é a porta giratória entre o BC e as instituições, um jogo de cartas marcadas em que executivos transitam de um lado para o outro do balcão, passando do mercado para o BC e do BC para o mercado.
Nesse ambiente, a demissibilidade ad nutum pelo Presidente da República é um contrapeso, ainda que frágil, à influência desmesurada de interesses financeiros privados.
Removido esse contrapeso, o domínio da turma da bufunfa sobre o BC fica perfeito e completo.
O que antes era posse ou usucapião se converte em propriedade, garantida por lei.
A porta giratória e como jogar areia nas suas engrenagens
Preciso falar mais um pouco da porta giratória, pois ela nos conduz diretamente ao cerne do problema que realmente deveria preocupar – a dependência do BC em relação ao sistema financeiro privado, especialmente os grandes bancos.
Como funciona a porta giratória?
O fenômeno não e só brasileiro. Nos EUA, fala-se em revolving door . E não se circunscreve aos bancos centrais. É a porta giratória que permite a influência, no limite o controle ou captura pelas corporações privadas das agências públicas que deveriam regulá-las.
Na ausência de freios institucionais, essa captura se concretiza principalmente pelo entra e sai de executivos do setor privado para o público e vice-versa.
Um executivo vai de uma corporação privada para um cargo na agência reguladora do setor.
Passa algum tempo, valoriza o seu passe e depois volta ao mesmo setor privado. Pode até retornar ainda uma vez para a órbita pública, galgando cargos maiores e reforçando ainda mais o seu CV.
Essa promiscuidade impede então que prevaleçam relações republicanas, de independência, entre as agências públicas e o setor privado.
A ortodoxia econômica de galinheiro, sempre a serviço da turma da bufunfa, ignora total e convenientemente o problema.
O projeto de lei complementar que saiu do Senado prevê apenas uma quarentena de seis meses após o desligamento de um diretor. Essa já é a regra atual. Trata-se de mera folha de parreira. É curta demais, seu escopo é estreito e sua aplicação, deficiente e pouco fiscalizada.
O que fazer? Primeiro, a quarentena deveria ser mais longa, digamos de dois anos.
Isso afastaria os que buscam uma passagem pela sua diretoria por motivos meramente oportunistas.
Impediria, também, que os recém-egressos do BC carregassem para o seu novo emprego em uma instituição financeira informações financeiras privilegiadas sobre o funcionamento da autoridade monetária e as instituições financeiras concorrentes.
Mesmo depois de dois anos, ainda haveria uma vantagem competitiva potencial de contratar um ex-diretor do BC, mas com o passar do tempo e a evolução do mercado a vantagem seria menor.
Segundo, o escopo da restrição deve ser mais amplo – cabe vetar não apenas a a participação em e a contratação por instituições financeiras, mas atividades de consultoria e assessoramento econômico e financeiro, que costumam ter nas entidades financeiras privadas os seus principais clientes.
Até o fim da quarentena, o ex-diretor teria que buscar colocação no setor real da economia, em outros segmentos do setor público ou em atividades acadêmicas. Nenhum sacrifício desmesurado.
Terceiro, é preciso fiscalizar a aplicação da quarentena e estabelecer, em lei, as punições para o descumprimento.
Hoje, a fiscalização parece ser rarefeita e não se pode garantir que mesmo a modesta quarentena de seis meses seja efetivamente cumprida na prática. Inexistem, ademais, punições adequadas estabelecidas em lei. No Brasil, suporta-se com paciência as infrações de colarinho branco.
Para além da quarentena, admitindo-se que exista uma preocupação verdadeira em restituir o caráter público e independente ao BC, deve-se também incluir no projeto de lei uma regra sobre a composição da direção.
Aqui há um trade off a ser enfrentado. Por um lado, o comando do BC não deve prescindir da experiência de dirigentes oriundos do mercado financeiro.
Por outro, não se quer a dominância desses profissionais. Solução: estabelecer teto à participação na diretoria do BC de profissionais do setor financeiro.
Por exemplo, estipular que no máximo 1/3 da diretoria, 3 dos 9 integrantes, tenha origem no mercado financeiro.
Os demais deveriam ser acadêmicos, profissionais oriundos de outros setores da economia, profissionais de outros segmentos do setor público, inclusive bancos públicos. Afinal, não é só em instituições financeiras privadas que se pode encontrar pessoas de reputação ilibada e com notório saber e experiência na área financeira.
Além disso, cabe reforçar a transparência e a prestação de contas.
Um BC mais independente do Executivo deve, em contrapartida, maior transparência e prestação de contas ao Congresso e à opinião pública.
Isso inclui mais transparência quanto à tomada de decisões (por exemplo, atas mais detalhadas das reuniões de decisão do BC) e depoimentos periódicos mais frequentes dos dirigentes da instituição em comissões do Congresso.
Por fim, outro passo recomendável seria a criação de um conselho de fiscalização independente, composto por profissionais do setor financeiro, da economia real e da academia, com funções e responsabilidades definidas em lei. Outras entidades, privadas e públicas, têm, por lei, um Conselho Fiscal. Por que não o BC?
Idealmente, antes de definir todos esses aspectos seria interessante passar em revista a experiência internacional e verificar como os países desenvolvidos e os emergentes lidam com esses desafios, notadamente o risco de captura do regulador pelos regulados.
Seja como for, as providências básicas parecem claras.
Em resumo, para jogar areia nas engrenagens da porta giratória será provavelmente preciso combinar os quatro elementos acima: 1) uma quarentena mais longa, de escopo ampliado, com fiscalização da sua aplicação e especificação das penalidades em caso de descumprimento; 2) uma regra que estabeleça um teto ao número de executivos e economistas oriundos do setor financeiro na diretoria do BC; 3) um reforço dos mecanismos de prestação de contas e da transparência do BC; e 4) a criação de um conselho fiscal independente, para supervisionar e fiscalizar o BC.
As propostas parecem boas, não é mesmo?
Mas, leitor, a turma da bufunfa subiria pelas paredes se elas forem realmente contempladas.
Querem porque querem que a autoridade monetária permaneça sua chasse gardée, seu campo exclusivo de caça.
Epílogo: a trajetória típica de um economista bufunfeiro
Para finalizar essa discussão, que já está ficando um pouco longa, preciso voltar a falar um pouco da tenebrosa turma da bufunfa.
A digressão é apenas aparente, apenas parcial.
A tenebrosa está por trás de tudo, dispondo.
Na realidade, como tentarei mostrar, a bufunfa tem íntima ligação com a questão. Afinal, como dizia Nelson Rodrigues, “dinheiro compra tudo – até amor verdadeiro”.
Se compra até amor verdadeiro, porque não haveria de comprar economistas, políticos, tecnocratas e tutti quanti?
Fato é que a referida turma está por trás dos duvidosos argumentos em favor da independência e, mais importante, vem a ser a responsável efetiva pela única dependência real do BC – a já mencionada dependência em relação às grandes instituições financeiras.
Quem vocaliza os interesses da turma da bufunfa são os economistas, ou certo tipo de economista, que ficam encarregados de dar um verniz “científico” e ares de respeitabilidade a teses e propostas duvidosas, para dizer o mínimo.
Cumpre notar, liminarmente, que há vários tipos de economistas bufunfeiros – o inteligente, o malandro, o habilidoso e o meramente medíocre.
Acresce que por um estranho motivo, que não me cabe elucidar aqui, predominam os gordos e, pior, gordos de notável circunferência.
Quando o economista bufunfeiro se levanta e pede a palavra, as banhas abundantes como que conferem peso adicional a seus argumentos, geralmente escassos, geralmente pobres.
A pobreza é a marca da argumentação. No plano teórico, se é que cabe falar em teoria, a plutocracia financeira é adepta da ortodoxia econômica de galinheiro, que defende fervorosamente a independência do BC.
Essa variante da ortodoxia, como indica a designação debochada, é a ortodoxia simplificada até a caricatura, a ortodoxia depurada de dúvidas, ambivalências e sutilezas.
A verdade constrangedora é que um banqueiro ou bancário de escol jamais entenderia a ortodoxia original. Se, por exceção ou anomalia, entende ou entendeu algum dia, disfarça cuidadosamente, disfarça até não mais poder. E se preciso for, cai de quatro e pasta abundantemente.
Nada mais comprometedor, nos meios financeiros, do que demonstrar criatividade e espírito crítico. Até mesmo uma inteligência acima da média já desperta inquietações.
Como é a trajetória típica de um desses economistas?
Observe, leitor, que são trajetórias de notável monotonia, todas se parecem e repetem um mesmo padrão surrado.
Começam pela inscrição em alguma universidade nacional, que ensine os rudimentos da ciência econômica tal como consagrada nos Estados Unidos.
É um aprendizado paradoxal: aprende-se tanto quanto se desaprende.
A forma de pensar a que é submetido o jovem estudante é essencialmente hostil ao entendimento de uma realidade social dinâmica.
A análise proposta, não é inútil, longe disso, mas tende a dissecar a realidade e fazer abstração de aspectos essenciais do real – a começar pelo tempo histórico.
Economia, tal como se importa dos Estados Unidos, mais obscurece do que esclarece os problemas econômicos reais. Em nome do rigor, sacrifica-se a relevância.
O segundo passo do futuro bufunfeiro é beber na fonte original. O economista formado no Brasil é enviado aos Estados Unidos para estudos de pós-graduação. Lá o rolo compressor é maior.
O jovem perde qualquer veleidade de pensar por conta própria.
Para concluir mestrado e doutorado, precisa disciplinar-se, aculturar-se, tomar distância das suas origens. Aprende, é claro, conceitos, teorias e técnicas interessantes e úteis em certa medida.
Se for para uma das principais universidades, pode ter algum contato com professores brilhantes.
Mas tudo que aprende vem sobrecarregado por ideologia, valores, preconceitos. Converte-se não em cientista, mas em propagador de teorias alienígenas, em geral mal digeridas. Vira, quase diria, um modesto divulgador de pseudociência.
Terceiro passo: voltar à pátria e tornar-se professor em algum departamento de economia, não primordialmente para ensinar, mas já de olho gordo em alguma função, mais bem remunerada, no mercado financeiro.
A passagem pela universidade local costuma ser breve e logo se transforma em dedicação parcial.
Consultoria é o que se busca. Um dos objetivos do interlúdio acadêmico é dar uma plataforma para que o candidato a bufunfeiro possa não só dar consultorias, mas também participar da mídia, com alguma legitimidade.
Repito, leitor, que o requisito básico é demonstrar total e absoluta falta de criatividade. Só avança na carreira quem se cingir a reproduzir acriticamente os mantras do momento, vale dizer, os preceitos endossados em cada período pela ortodoxia econômica de galinheiro.
A tarefa é relativamente simples. Basta arrotar alguns conceitos e teses convenientes. Salpicar a retórica com termos técnicos e expressões em inglês é um adorno útil, ainda que não indispensável.
O principal sacrifício é ter estômago para conviver com o tédio. Vende-se a alma com relativa tranquilidade, mas contra o tédio, ah, contra o tédio, como dizia Nietzsche, até os deuses lutam em vão.
Fiz toda essa recapitulação para chegar ao quarto passo, esse sim decisivo, que marca o jovem ortodoxo de maneira indelével – a sua contratação por alguma instituição financeira ou ligada ao mercado financeiro.
A condição de economista do mercado é a glória, leitor. Contracheques polpudos e tarefas leves. Basta ter modos e dançar conforme a música. Ao fazer previsões, olhar com cuidado o “consenso” do mercado e não se afastar muito do rebanho. Nunca será tão fácil ganhar a vida, desde que não se tenha escrúpulos intelectuais, morais ou políticos.
Chega o economista bufunfeiro, enfim, ao quinto e culminante passo: a porta giratória entre mercado financeiro e BC. Guindado a um cargo de direção no BC, o economista valoriza o seu passe.
Se atuar by the book, com fidelidade total aos preceitos da ortodoxia de galinheiro, o economista terá um futuro brilhante. Retorna ao setor financeiro para cargos mais altos e mais remunerados. E pode até voltar, outra vez, ao BC em algum momento, valorizando ainda mais o seu passe.
Ao retornar ao setor financeiro, o bufunfeiro chega à realização plena – cargos prestigiados, carga de trabalho leve e remuneração polpuda. É uma forma de corrupção, sem dúvida, mas uma forma singular em que o corrupto em vez de correr o risco da punição, pratica os seus desvios sob aplauso e respeito geral.
Um exemplo prático
Talvez esta crônica esteja ficando um pouco abstrata. O leitor gosta de casos concretos, com nome e endereço.
Encerro então essas considerações com um exemplo conveniente: Ilan Goldfajn, ex-presidente do BC no governo Temer.
A sua trajetória segue, em todos os seus passos, o padrão acima resumido, culminando na alternância bem-remunerada entre diretoria do BC e sinecuras no sistema financeiro privado.
Não quero ser acusado de gordofobia e não vou me deter, portanto, na descrição da sua aparência física, marcada por banhas abundantes.
Mas um ponto o diferencia um pouco da norma: o apego infalível, quase caricatural, à mediocridade ou, vamos ser caridosos, à simulação perfeita da mediocridade.
Nem todos os seus companheiros de trajetória chegam a tal perfeição.
Na época da sua nomeação para presidente do BC, tratei de ler um pouco seus artigos e outras publicações – tanto mais que se dizia na mídia que ele era o “líder intelectual” da equipe econômica do governo Temer.
Líder intelectual? Depois de passar os olhos em alguns textos colhidos na internet, indaguei, perplexo, mas esse sujeito pensa?
Os seus textos eram, consistentemente, vazios e rasos. Nenhuma ideia, nenhum lampejo.
Era a arte de escrever, sem nada dizer. O máximo que se extraía era algo do tipo: os dados levantados não permitem descartar a hipótese etc. – e seguia-se alguma hipótese ao agrado da turma da bufunfa.
Os seus pronunciamentos enquanto presidente do BC também não ofuscavam, oscilando discretamente entre o trivial e o sonolento.
Certa feita, um gaiato da sociedade carioca foi apresentado a uma jovem senhora e seu esposo. Saiu-se com o seguinte, para espanto dos circunstantes: “Como não, já dormimos juntos!” E esclareceu, depois de uma pequena pausa dramática: “Durante uma conferência do Ilan Goldfajn”. Realmente, o referido bufunfeiro, exala tédio, exala sonolência. Como notei na época em que ele exercia o cargo, é uma figura paquidérmica, tanto no discurso, como na prática.
Em suma, é a indigência intelectual, simulada ou não, a serviço canino da plutocracia. Esse pessoal, leitor, merece ser caçado a pauladas, feito ratazana prenhe, como diria Nelson Rodrigues.
Mas não quero me exaltar, e retiro a frase anterior. (O leitor haverá de notar, entretanto, que a frase retirada ficou.)
Chego assim ao final da minha narrativa. Espero que o leitor não tenha ficado chocado com o tom irreverente e desrespeitoso dessas considerações finais.
Cumpre lembrar que o humor e até o sarcasmo fazem parte da caixa de ferramentas do economista, ainda que sejam subutilizadas.
Como dizia John Kenneth Galbraith, o comportamento econômico em geral, e dos economistas em particular, é frequentemente ridículo, sem ser, claro, inocente.
Tratar teses e questões ridículas com seriedade, sem humor, é associar-se ao ridículo, compactuar com ele e favorecer a sua continuação.
Versão ampliada e atualizada de artigo publicado na revista “Carta Capital” em 11 de dezembro de 2020. O autor é economista, foi vice-presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, estabelecido pelos BRICS em Xangai, e diretor executivo no FMI pelo Brasil e mais dez países. Lançou no final de 2019, pela editora LeYa, o livro O Brasil não cabe no quintal de ninguém: bastidores da vida de um economista brasileiro no FMI e nos BRICS e outros textos sobre nacionalismo e nosso complexo de vira-lata.