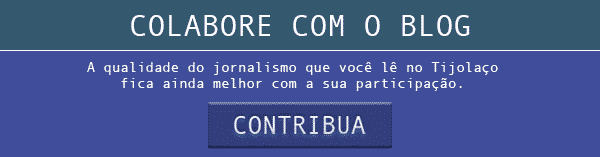Proponho, querido e paciente leitor, que conversemos hoje sobre um tema vasto e complexo que adquiriu urgência nos anos recentes, em especial em 2022. Refiro-me, como
indica o título deste artigo, ao declínio do Ocidente. Trata-se de uma questão intrincada, que mobiliza afetos, preconceitos, interesses. E é por isso mesmo que ela se mostra fascinante.
O leitor, como eu, certamente gosta de desafios e não quer se restringir a assuntos batidos, onde reina certo consenso. Vamos em frente então.
Primeira pergunta: é fato ou mito essa decadência ocidental? Note-se que ela já foi proclamada muitas vezes. O assunto não deixa de ser batido, portanto. A própria expressão “declínio do Ocidente” foi tema e título de um livro de Oswald Spengler, publicado há pouco mais de cem anos, em 1918.
O século 20 não confirmou a previsão de Spengler. O Ocidente se deu até ao luxo de promover duas guerras civis, de escala mundial ou quase, conhecidas europocentricamente
como Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Foram guerras sem precedentes, sangrentas e custosas. E nem por isso o Ocidente perdeu a hegemonia planetária. Sobrava poder. A verdade
é que a resiliência ocidental foi maior do que imaginavam detratores e adversários. As formas de dominação se modificaram, mas o século 20 terminou sem que o domínio fosse de fato
superado. O eixo do poder passou de um lado para o outro do Atlântico Norte, mas se manteve em mãos ocidentais. Até aumentou na reta final do século, com a surpreendente desintegração do bloco soviético e até mesmo da própria União Soviética.
Foram muitos os livros e ensaios publicados na esteira de Spengler ao longo do século passado. A frustração dessas previsões de decadência levou os ideólogos do Ocidente a se referir depreciativamente a uma suposta escola “declinista”, mais motivada por ideologias ou desejos do que por avaliações objetivas. E havia, claro, um elemento fortíssimo de desejo nessas previsões.
Afinal, leitor, a hegemonia de europeus e seus descendentes norte-americanos vinha sendo duradoura e nada benevolente, para dizer o mínimo. Suscitou assim antipatia profunda
e generalizada nos povos colonizados ou dominados, com ecos nos segmentos humanistas das próprias sociedades mais desenvolvidas. Humano, humano demais que os tropeços do
Ocidente sejam recebidos com satisfação urbi et orbi.
Nada é para sempre. E o domínio do Ocidente sobre o resto do mundo já leva mais de duzentos anos. Começou, como se sabe, com a revolução industrial iniciada na Inglaterra no final do século 18. Consolidou-se no século 19 e persistiu, como mencionei, ao longo do século 20. Teve seu Indian summer depois do colapso soviético.
Agora parece claro, entretanto, que o século 21 não será mais um século de domínio inconteste do Ocidente. Ao contrário, os sinais de declínio estão por toda parte. Em termos demográficos, econômicos, culturais, políticos. Os “declinistas” terão enfim razão? Há muitas indicações de que agora sim.
Cuidado, entretanto. De um modo geral, o declínio ocidental é relativo, não absoluto. Em algumas áreas, o declínio pode, sim, ser absoluto, por exemplo na cultural, onde o retrocesso parece acentuado. Mas o que ocorre de uma maneira geral é perda de peso relativo vis-à-vis do resto do mundo, em especial da Ásia emergente, a China à frente. O declínio é mais acentuado para a Europa, mas se sente também nos Estados Unidos.
A perda relativa não deixa de ser sentida como real, dolorosamente real. Afinal, o ser humano é tão deficiente, constituído de tão pobre e imperfeita maneira que chega a ver na ascensão do outro uma ameaça, um prejuízo para si. A mera ascensão pacífica já desencadeia os piores sentimentos e receios. No caso dos europeus e norte-americanos esse lamentável traço humano se vê agravado pelo hábito arraigado de dois séculos de predomínio global. Os brancos dos dois lados do Atlântico Norte não se acostumam, simplesmente não se acostumam a ver povos antes dominados –asiáticos, latino-americanos, africanos – querendo emergir, ser ouvidos e participar das decisões internacionais. Ainda que essas pretensões dos emergentes sejam modestas, cautelosas, até tímidas às vezes. Habituados a ditar, ensinar, pregar, os brancos não conseguem dialogar e negociar com o que para eles é uma massa ignara e até repugnante.
Mas a emergência dos outros povos vem de qualquer maneira, quer se queira quer não. Vai acontecendo em termos populacionais, econômicos e políticos. Aos ocidentais, resta conformar-se ou espernear. Até agora preferiram espernear. Mais do que espernear, infelizmente. Reagem com violência e provocações à inevitável formação de um mundo multipolar. Em última análise, são essas reações que explicam a guerra na Ucrânia e as tensões crescentes com a China. A mais recente provocação foi a visita de Nancy Pelosi a Taiwan.
A que dará lugar o fim da hegemonia do Ocidente? A julgar pelas tendências recentes, o que virá não é a substituição dos Estados Unidos pela China, ou do Atlântico Norte pela Ásia. A China dificilmente terá no mundo a hegemonia que a Europa e os Estados Unidos já tiveram um dia. Por motivos históricos e intrigas ocidentais, os chineses não comandam a confiança da
maioria dos seus vizinhos. Japão, Índia, Vietnã, por exemplo, têm diferenças importantes com a China e não aceitam a sua hegemonia. Os chineses dificilmente conseguirão estabelecer uma
zona de influência sólida, mesmo no Leste da Ásia, o que dizer em outras regiões. Uma observação semelhante pode se fazer sobre a Rússia e a Índia, que têm de qualquer maneira
peso bem inferior ao da China.
O cenário que vai se configurando desde o início deste século é de um mundo multipolar, fragmentado, sem governança e regras aceitas globalmente. As entidades globais existentes, ONU, FMI, Banco Mundial, OMC etc., continuarão a ter sua importância, mas cominfluência declinante, tanto mais que os ocidentais se recusam a reformá-las para refletir plenamente a realidade do século 21. No lugar de ou em substituição parcial a essas instituições multilaterais de alcance mundial ou quase mundial, surgiram e surgirão instituições novas, criadas por países emergentes em busca de mais espaço no plano internacional.
Essa multipolarização do mundo é interessante para os países em desenvolvimento, pois abre oportunidades e pode facilitar a consolidação da sua autonomia nacional. Por outro
lado, a fragmentação do mundo multipolar também é muito perigosa, como estamos vendo. Com esses perigos seremos todos obrigados a lidar, sem nostalgias inúteis por situações de
concentração de poder que não mais voltarão.
E o Brasil nisso tudo? Bem. Superadas nossas desventuras recentes, temos muito a fazer, por nós e por outros países. Ao nosso imenso Brasil cabe, acredito, um papel especial: trazer ao mundo uma palavra de solidariedade, cooperação, paz e amor.
Mas isso já é assunto para outras e mais ousadas divagações especulativas.
***