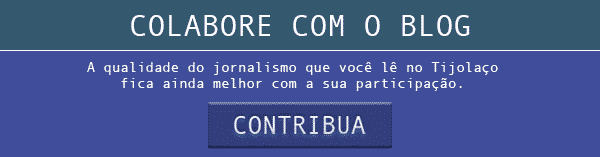Das memórias que o tempo não corroeu, ficou a imagem da fervura do leite, onde a leiteira, já muito quente, tinha sobrenadando uma camada de gordura que flutuava, quase sólida, sobre o líquido quente e não deixava sair, senão pelas bordas, as bolhas de ar que brotavam do fundo.
O Brasil guarda-lhe certas semelhanças, pois aqui há, também, uma nata que se comporta como se, abaixo dela, não houvesse uma massa humana em ebulição, que só é vista nas estatísticas ou nas calçadas.
Só isso explica que parte desta camada – na política e na economia – esteja agora com o tolo e, em grande medida, falso discurso de que “o Brasil não pode ter outra polarização”, pois teria sido dela que resultou o desastre Bolsonaro.
É curioso, porque foram estes mesmos agentes que criam, quando lhes convém, o simplismo da visão maniqueísta da sociedade, distribuindo rótulos como aquelas máquinas de etiqueta dos supermercados: havia “pessoas do bem” (e “do mal”, em contraposição); “corruptos” para que a eles opusessem-se os “justiceiros”.
Vieram os nomes “lacradores”: “esquerdopatas”, “lulopetistas”, “petralhas”, estigmas com que se marcava a testa de qualquer um que não se juntasse, incondicionalmente, ao “Delenda PT” que se tornou a corrente hegemônica, mesmo fora do período em que poderia ser legítima, o eleitoral, para se tornar uma condição permanente.
Foi este caldo de radicalização que se plasmou a monstruosidade Jair Bolsonaro. Não se diga que, por asqueroso que era (e é) o ex-capitão, não se integraram a ele, pois o fizeram com seu herói – Moro, tão “do bem” que se lhe dispensava até o pudor de integrar o governo que elegera ao desclassificar o candidato adversário – e com seu “homem do mercado” Paulo Guedes, com quem contavam para a destruição completa da esquerda e do que restava – ou que se reconstruíra – de Estado nacional e social.
Sim, guardaram a hipocrisia de torcer o nariz a alguns modos toscos de Jair e consideravam as suas propostas de matar, fuzilar, exilar como coisas que não se deveria dizer nas “casas de família”, mas grosserias perdoáveis na porta do botequim onde reunia seus acólitos.
Diziam, como o editorial do Estadão de 2018, que era “uma escolha muito difícil”
Mas isso ia ser “contido pelas instituições”, o mastim domar-se-ia, sentar-se-ia placidamente ao lado de seus donos e, salvo por um rosnado ou outro, comporia o ambiente e defenderia a Casa Grande.
Tornou-se, porém, algo que já dispensa a descrição nojenta, que a pandemia tornou horripilante. Uma grossa camada de estupidez pôs-se sob o país e o está deixando sem ar.
Há, sim, a necessidade de uma radicalização: a de ser contra ou a favor da continuidade desta tragédia, algo que Aristóteles esboçava no seu “não deve ser possível ser e não ser a mesma coisa”.
Tertius non datur, não há Paris possível, não há voto nulo tolerável, não há o vamos inventar alguém que possa ser o “limpinho e cheiroso”, sem cáries no pré-molar, a quem se possa apresentar como solução “nova”.
De “novos”, fiquem os tolos, que não percebem que não é hora de diletantismos ou aventuras.
Há um monstro e há um gigante e a luta eleitoral será entre eles. Pouco importa que a nata se desloque, forme franjas e núcleos de gordura, deslize para a direita ou para a esquerda.
Este é o embate real e o real, goste-se ou não dele, é a verdade.
E ela está irrompendo, mais clara, mais forte e mais cedo do que, angustiadamente, esperávamos.