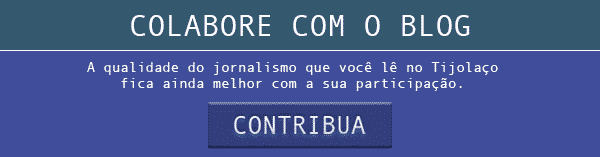Saiu a decisão do Federal Reserve e o BC americano e, pela primeira vez em 28 anos, aumentou em 0,75% o rendimento do dinheiro do mercado interbancário, que ficará em taxas de 1,5% a 1,75%, a mais alta desde antes da pandemia atingir os Estados Unidos. Há dois meses, esta taxa era de 0,25 a 0,5%.
E o Brasil com isso?
Bem, boa parte dos dólares que estão no Brasil vêm por conta da “arbitragem”. Isto é, contrata-se crédito barato lá fora e aplica-se aqui com juros maiores, ganhando na diferença.
Não é, porém, uma simples operação aritimética, da diferença entre as duas taxas. Além de custos administrativos e os impostos locais (como o IOF), é preciso considerar o chamado “Risco-Brasil”, oficialmente chamado de Credit Default Swaps (CDS, sigla em inglês para “Padrão de Risco de Crédito), hoje em 2,7%, aproximadamente.
Este é o dilema que está posto ao Banco Central brasileiro. Um elevação menor que a do Federal Reserve vai baixar a remuneração do capital estrangeiro que vem tomar um banho de juros por aqui e ajuda a segurar a cotação da moeda norte-americana.
A estimativa da maioria dos bancos é de que subam-se os juros internos em mais 0,5%, levando a Selic a 13,25% ao ano. Mas, com a decisão do Fed, ou o BC ou sobe o mesmo por aqui ou acena com um próximo aumento da taxa na próxima reunião, no início de agosto. Na segunda hipótese, fica agarrado na esperança de que a inflação norte-americana caia muito forte e leve as taxas de lá a não subirem ou, na pior das hipóteses, subirem muito pouco.
Algumas pistas serão dadas daqui a pouco, numa prometida entrevista de jerome Powell, chefão do Federal Reserve.
Do contrário, teremos complicações no câmbio e, por conseguinte, na inflação.